MIA> Biblioteca> Jorge Beinstein > Novidades
Primeira Edição: ....
Tradução: JF
Fonte:Resistir.info - https://www.resistir.info/
Transcrição e HTML: Fernando Araújo.
A euforia neoliberal dos anos 1990 e os delírios militaristas que se seguiram são hoje recordações apagadas, seus impactos mediáticos esgotaram-se. Assim como nesse remoto passado abundavam os peritos que profetizavam o milénio burguês, agora muitos deles anunciam a chegada próxima de uma megacrise mundial muito mais poderosa que a dos anos 1970. Numa nota publicada em Agosto de 2005 Stephen Roach, economista chefe da Morgan Stanley, alertava acerca da iminência da "primeira crise energética da era da globalização" e para os numerosos pontos débeis da economia norte-americana perante o referido fenómeno(1). Contudo, um mês depois, na mesma newsletter, Roach colocava o défice da balança de transacções correntes dos Estados Unidos no primeiro nível de periculosidade(2). Por sua vez, em Agosto The Economist apontava para outro detonador: a bolha imobiliária mundial com centro nos Estados Unidos, cujo desinchamento seria inevitável a não muito longo prazo(3), ainda que durante esse ano a revista também haja enfatizado o défice de transacções correntes, a dívida pública, o défice fiscal e outros males da superpotência.
Um percurso rápido pelas principais fontes de informação económica internacional nos levaria a engrossar a lista de ameaças: a fragilidade do dólar, o círculo vicioso comercial-financeiro estabelecido entre os Estados Unidos e a China (o primeiro acumulando dívidas e défices e o segundo dólares e títulos do Tesouro norte-americano) ou a desaceleração da União Europeia (onde o motor alemão surge com crescentes dificuldades económicas, sociais e políticas). E olhando para além da economia assomam as consequências do fracasso da ocupação do Iraque que poderia desencadear uma reacção em cadeia, ligando por exemplo a queda do dólar com a reconversão de grandes reservas dolarizadas em direcção a outras moedas, o encarecimento recessivo do crédito nos Estados Unidos e a contracção do seu consumo interno que tem impacto sobre a procura global.
Vários meses antes de concluir o ano de 2005 o FMI prognosticava novamente a baixa das taxas de crescimento de vários países centrais (Alemanha, Itália, Inglaterra, Japão, etc). Os burocratas do Fundo diversificam as culpas: o Katrina, os défices norte-americanos, a alta do preço do petróleo...(4), deixando entrever que 2006 não seria melhor.
A incerteza aumenta quando são recordados os erros de previsão que precederam a última megacrise desencadeada a partir do choque petrolífero de 1973-1974. Os poucos economistas de renome convencidos de que se avizinhava uma crise mundial de grande envergadura apostavam em sua maioria nas turbulências monetárias agravadas desde 1971 quando o presidente Nixon decidiu não entregar mais ouro em troca de dólares, sepultando assim o sistema monetário construído a seguir à Segunda Guerra Mundial.
De qualquer forma, essa previsões eram marginais. A maioria esmagadora de economistas, políticos e comunicadores endossava os mecanismos keynesianos capazes, segundo eles, de controlar qualquer perturbação séria. Quando a crise estalou quase todos previram o princípio de uma era de maior regulação estatal do mercado no Ocidente acompanhada pelo fortalecimento internacional do bloco soviético, mas ocorreu o contrário. O keynesianismo clássico entrou em declínio, emergiu triunfante o neoliberalismo e as desregulamentações de todo tipo, a URSS desapareceu... em síntese, produziu-se uma enorme bifurcação que não entrava na visão conservadora dos peritos. Uma surpresa semelhante aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial, após a qual uma das principais vítimas foi o capitalismo liberal então considerado eterno pelos formadores de opinião do Ocidente. Agora que estamos a ingressar numa era de alta instabilidade predominam novamente os erros de percepção. O grosso dos meios de comunicação (administradores do "sentido comum") dão por assente que as transformações estruturais do capitalismo das últimas três décadas são irreversíveis ao passo que uma minoria cada vez mais influente aponta em direcção a um certo passado keynesiano. É quase certo que ambos se equivocam.
Como a economia mundial gira em torno dos Estados Unidos (seu consumo interno sobredetermina a evolução da procura mundial), torna-se útil observar as grandes transformações (e desequilíbrios) que ali estão a ocorrer.
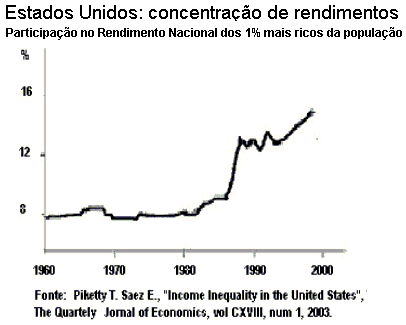
Em primeiro lugar aparece uma surpreendente combinação de elitização social, consumismo e declínio da cultura produtiva. Desde a Segunda Guerra Mundial garantia-se a desconcentração dos rendimentos. Ao longo dos anos 1960 e 1979 os 1% mais ricos da população ficavam com aproximadamente 8% do Rendimento Nacional. Mas em torno de 1980 mudou a tendência e desenvolveu-se um processo de rápida concentração, actualmente ainda em curso. Em 2000 esses 1% já absorviam 16% do Rendimento Nacional (ver gráfico "Estados Unidos: concentração de rendimentos"). Ao contrário do que ensina a ortodoxia económica, a concentração em cima não engrossou o fluxo da poupança e do investimento e sim o do consumo, que em termos reais cresceu a 4% ao ano entre 1985 e 2003, equanto o Produto Interno Bruto crescia a 2,2%.(5) A taxa de poupança pessoal foi-se contraindo até chegar agora a níveis negativos (ver gráfico "Queda da poupança pessoal nos Estados Unidos) sem ser compensada pela poupança empresarial nem estatal, que também declinaram. Em consequência, a poupança nacional líquida (empresarial, pública e pessoal), que representava em média 7,5% do Rendimento Nacional no período 1960-2000, caiu para 1,5% durante 2001-2005. Em resultado disto os investimentos foram cada vez mais financiados por capitais externos.
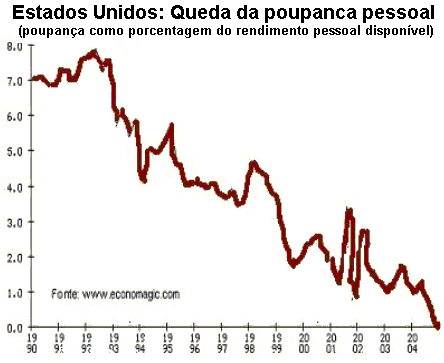
Paralelamente expandiu-se o comportamento especulativo em detrimento da cultura produtiva. Entre 1952 e 1979 (época keynesiana) os rendimentos financeiros representaram em média uns 10% do rendimento das famílias. Mas entre 1980 e o presente (hegemonia neoliberal) a referida porcentagem quase duplicou. Recordemos que quando ocorreu a crise de 1929 entre 3% e 4% da população estadunidense estava envolvida em negócios bursáteis. Essa porcentagem rondava os 50% no ano 2000.
Frente a isso, reduzia-se a massa de operários industriais. Não se tratou de um fenómeno exclusivamente norte-americano, mas em nenhum dos países desenvolvidos este se manifestou de maneira tão aguda. Por outro lado, a flexibilização laboral alentada a partir da presidência Reagan (1981-1989) deteriorou a longo prazo a "cultura empresarial" de importantes segmentos de trabalhadores, travando o dinamismo dos processos industriais inovadores. A competitividade ganha no curto prazo pelas empresas (desaceleração das pressões salariais) foi perdida no médio e longo prazo ao tornarem-se mais caros e menos criativos os sistemas de inovação. Os produtos norte-americanos começaram a ser cada vez menos competitivos frentes aos de países desenvolvidos como a Alemanha ou o Japão, que podiam oferecer maior qualidade, e em certos casos também melhores preços, mas também frente a bens tecnologicamente menos refinados fabricados por países emergentes como a China, com baixos custos, principalmente salários.
Chegamos assim a uma segunda tendência visível: a expansão incessante dos desequilíbrios externos. A balança comercial foi-se degradando. Ainda nos anos 60 era positiva, mas ao começarem os 70 apareceram alguns números negativos, a princípio modestos mas em 1977 ocorreu o primeiro grande défice de 27 mil milhões de dólares, que saltou para 57 mil milhões em 1983 e 109 mil milhões em 1984, persistiu em geral nesses níveis durante o resto da década e na maior parte da seguinte e em 1998 saltou para 165 mil milhões. Começou aí uma vertiginosa carreira ascendente: 378 mil milhões em 2000, 494 mil milhões em 2003, 617 mil milhões em 2004,(6) arrastando na queda a balança de transacções correntes(7) cujo défice chegou a representar 5,7% do Produto Interno Bruto norte-americano em 2004.
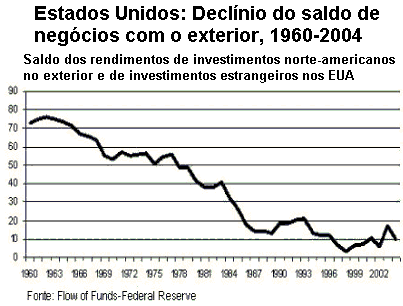
No passado, os rendimentos dos investimentos no exterior contrabalançavam em parte os desequilíbrios comerciais que os Estados Unidos pagavam entregando dólares, ou seja, com um custo directo ínfimo. Mas com o correr do tempo esses papeis foram-se transformando em activos norte-americanos em mãos estrangeiras que produziam lucros, os quais numa proporção significativa saiam para o exterior. Por volta de 1950 os activos no exterior dos estadunidenses equivaliam a cerca de 11% do seu Produto Interno Bruto e em princípios de 2005 chegavam a 36%, indicador da expansão global dessa economia, mas paralelamente cresceram os activos de estrangeiros nos Estados Unidos. Se também os compararmos com o PIB norte-americano veremos que representavam 6% em 1950, 22% em 1985 e 78% em 2005:(8) dois dólares em activos norte-americanos possuídos por estrangeiros contra um dólares de activos no exterior em mãos norte-americanas. Contudo, o balanço entre entradas e saídas de fundos desses investimentos ainda continua a ser favorável aos Estados Unidos(9)...mas cada vez menos. Em 1960 esse saldo representava 7'% das entradas de fundos por investimentos no exterior, mas em 1980 havia baixado para 40%, em 1992 para 22% e em 2004 oscilava entre os 9% e os 10% (ver gráfico "Estados Unidos: Declínio do saldo de negócios com o exterior).
Este panorama é ainda mais agravado devido à crescente dependência energética. Desde princípios dos anos 70 vem caindo a produção interna de petróleo. Em consequência a economia é cada vez mais sensível aos vai-e-vens de uma produção mundial que estará a chegar ao seu zénite, o que acelera a subida dos preços(10).
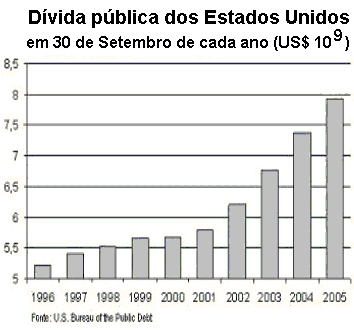
Às duas tendências negativas descritas soma-se uma terceira. Se examinarmos as últimas quatro décadas, os superávites fiscais constituem uma raridade. Desde os anos 70 os défices foram crescendo até chegarem a níveis muito elevados em princípios dos 90 e a seguir Clinton despediu-se com alguns superávites significativos. Mas desde a chegada de Bush filho o défice regressou, alcançando números sem precedentes: 160 mil milhões de dólares em 2002; 380 mil milhões em 2003; 412 mil milhões em 2004. A combinação de cortes tributários às empresas e aumentos de gastos militares não foi compensada com maiores entradas trazidas pela reactivação. Em consequência a dívida pública, que havia travado seu ímpeto em finais da era Clinton, avançou de forma incontida e agora chega aos oito mil milhões de dólares (ver gráfico "Dívida pública nos Estados Unidos"), integrando uma dívida total (pública, pessoal e empresarial) superior aos 37 mil milhões de dólares, equivalente a mais de três vezes o PIB dos Estados Unidos e superior ao Produto Bruto Mundial. Após o arrefecimento económico de 2001 a Casa Branca conseguiu com estes desequilíbrios, com a redução da taxa de juros e com uma política de crédito fácil impulsionar o consumo e fazer subir o ritmo de crescimento — mas também conseguir expandir o défice comercial, as dívidas e uma bolha especulativa muito maior do que aquela desinchada nos princípios da década actual.
Isto tornou os Estados Unidos muito mais dependentes da poupança internacional. As entradas de capitais externos oscilam entre 2000 e 3000 milhões de dólares por dia, sem os quais o Estado não fecharia sua contas, as empresas não conseguiriam sustentar seus investimentos e os consumidores não poderiam continuar a gastar ao ritmo actual. Resultado: as dívidas privada e pública dos norte-americanos com o exterior rondavam em 2004 os 4,5 mil milhões de dólares (em 1995 chegavam a 1,5 mil milhões) e os bancos centrais estrangeiros que em 2003 compraram 14% dos títulos a longo prazo do Tesouro adquiriram 28% em 2004.(11)
Os estadunidenses consomem, importam e acumulam dívidas como nunca antes haviam feito, alentados por um governo que imprime cerca de 1,5 mil milhões de dólares por ano.(12) O resto do mundo, especialmente os países asiáticos, colocam esses bilhetes nas suas reservas, trocam-nos por títulos do Tesouro norte-americano contribuindo para amenizar o défice fiscal da superpotência (financiando desse modo suas aventuras militares) ou investem nos Estados Unidos uma parte dos seus dólares. À primeira vista estaríamos perante uma mega parasitagem que se alimenta da poupança e da produção do planeta, mas isso é uma verdade a meias. Chineses, japoneses, alemães ou ingleses não estão a fazer beneficência em troca de nada. O que fazem na realidade é sustentar o primeiro mercado do mundo cujo desinchamento os golpearia duramente. É o lugar onde chineses e japoneses vendem uma parte substancial das suas exportações, e onde os europeus colocam grandes massas de capitais. Além disso a financiarização da economia não é um fenómeno exclusivamente norte-americano, trata-se de um processo global. Dois exemplos: a dívida pública do Japão equivale a 140% do seu PIB e a área mais quente da especulação financeira — os negócios com "derivados" (que ascenderiam segundo cálculos recentes, a uns 180 mil milhões de dólares, cerca de cinco vezes o Produto Bruto Mundial)(13) —, apesar de ter o seu centro motor nos Estados Unidos, forma uma trama em que se entremeiam de modo indiferenciado especuladores europeus, japoneses, chineses, latino-americanos, estadunidenses ou russos.
Isto leva-nos ao primeiro possível detonador de uma futura megacrise: o desajustamento financeiro global.
O défice da balança de transacções correntes dos Estados Unidos equivale a 70% do conjunto dos défices de transacções correntes do mundo... e a tendência é crescente. O fluxo de fundos externos que sustenta a superpotência não pode manter seu ritmo actual de maneira indefinida, mesmo antes de declinar poderia sofrer algumas flutuações que fariam ranger um sistema sumamente frágil. É de bom tom nos meios académicos e tecnocráticos fazer referência à necessidade de um ajuste forte nos Estados Unidos apoiado numa marcha forçada rumo ao equilíbrio fiscal que certamente esfriaria o consumo e por conseguinte as importações, reduzindo em consequência o défice da balança de transacções correntes. Na realidade trata-se de uma aspiração de difícil cumprimento, porque se isso chegasse a ocorrer arrastaria para a recessão a economia mundial, chineses e japoneses enfrentariam a contracção do seu principal mercado e eles também entrariam em crise. Os europeus (especialmente os países líderes da região) não teriam onde colocar parte das suas exportações nem sobretudo uma porção substancial dos seus excedentes financeiros. Agora entraram num período de crescimento baixo, mas nesse momento cairiam na recessão. Em síntese, se o desajuste continua, cedo ou tarde causará uma sacudida financeira grave, mas se for corrigido a economia mundial sofrerá uma depressão gigantesca.
Estreitamente vinculado ao fenómeno anterior, mas com vida própria, há um segundo detonador: o dólar, o seu futuro incerto. Vem declinando em relação ao euro, ao yen e ao ouro, para além de algumas recuperações efémeras. O Japão acumula reservas (na sua maior parte dolarizadas) em mais de 850 mil milhões de dólares, as reservas chineses rondam os 700 mil milhões de dólares, seguem-nos outros países asiáticos. Recentemente a Coreia do Sul anunciou a sua vontade de diversificar as suas reservas, o Japão fez o mesmo, a Índia já o vem fazendo e a China hesita em começar o processo. Todos sabem que se venderem dólares maciçamente o preço do bilhete cairá a pique, o que causaria uma contracção catastrófica do valor das suas reservas muito antes de poderem reconvertê-las. Em consequência, tentam uma complicada operação consistente em deslizar muito suavemente para outras divisas e activos procurando não provocar o derrube do dólar. Mas a derrocada poderia começar impulsionada por outros factores, como por exemplo um avanço significativo da desdolarização do mercado petrolífero. Se uma parte importante dos importadores e exportadores deixar de aceitar dólares, privilegiando o ouro, produzir-se-ia um forte declínio do dólar com suas sequelas recessivas nos Estados Unidos. O Irão anunciou recentemente a próxima instalação em Teerão de uma bolsa de comércio de petróleo a funcionar em euros e a competir com as de Nova York e Londres que operam em dólares. Além disso, a crescente convergência entre a China, a Rússia e o Irão poderia derivar na constituição de um bloco industrial-energético euro-asiático que apontaria rumo à desdolarização dos intercâmbios comerciais.
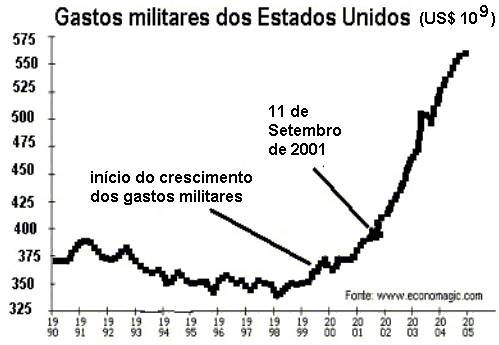
A guerra do Iraque surge como o terceiro detonador potencial da crise. André Gunder Frank costumava insistir em que todo o poderio norte-americano assenta em dois pilares: o dólar e o Pentágono(14), apoiando-se mutuamente num jogo de hegemonia global. O primeiro deles mostra claros sinais de debilidade, o segundo, depois de um arranque mediático inusitado como super herói da chamada "guerra contra o terrorismo", ficou atolado no pântano iraquiano, mas também no do Afeganistão (que se vai iraquizando gradualmente). A expansão dos gastos militares norte-americanos não se desencadeou a seguir ao 11 de Setembro de 2001 e sim antes (ver gráfico "Gastos militares dos Estados Unidos"). Um dos seus objectivos principais era o estabelecimento do domínio dos Estados Unidos sobre os recursos energéticos mundiais, peça chave do seu projecto imperial. O alcance dessa meta lhe teria permitido resguardar baluartes vitais como o da hegemonia financeira (e do dólar como moeda universal). Mas o desenvolvimento da aventura iraquiana mostra uma grande potência a alcançar as fronteiras da sua "sobre-extensão estratégica", conceito popularizado pelo historiador norte-americano Paul Kennedy para assinalar como os impérios quando entram em decadência sem vêm obrigados a multiplicar suas intervenções militares no mundo com o objectivo de sustentar suas conquistas mas também como o financiamento dessas intervenções é cada vez mais problemático (as guerra convertem-se em multiplicadores de dívidas) ao mesmo tempo que as movimentações bélicas são cada vez mais ineficazes: a solução militar converte-se assim num catalisador da crise(15).
Uma retirada (derrota) das tropas norte-americanas do Iraque afectaria directamente o seu poderio económico, empurraria o dólar para baixo e certamente o preço do petróleo para cima, teria efeitos recessivos sobre os Estados Unidos que se propagariam globalmente. Em consequência, as tropas estadunidenses não podem retirar-se... ainda que tão pouco possam ficar porque suas posições vão-se deteriorando de maneira irresistível.
O quarto detonador é a crise energética em curso que poderia desembocar numa explosão inflacionária e recessiva superior às dos anos 1970. Existe uma causa estrutural que a provoca: o esgotamento das reservas, agravado pelo facto de que todas as grandes potências industriais, as tradicionais e as emergentes, são também grandes importadoras de petróleo. Em fins dos anos 1990 os prognósticos mais sérios assinalavam que entre 2010 e 2012 chegaríamos ao máximo da extracção (o temível "Peak Oil" ), mas era uma avaliação errónea baseada na sobre-estimação da reservas disponíveis, sobretudo as do Médio Oriente, da Ásia Central e da Rússia. De qualquer forma, essa proximidade teria bastado para que em meados da década actual a combinação (confrontação) das estratégias energéticas dos países centrais, das grandes empresas petrolíferas e dos especuladores conseguisse fazer subir os preços do combustível. Mas acontece agora sabermos que o período anterior ao Peak Oil foi encurtado: as jazidas da Bacia do Cáspio não são tão generosas como se supunha, muitas daquelas do Médio Oriente (sobretudo da Arábia Saudita) e da Rússia estão a ser sobre-exploradas, pelo que já nada pode deter a corrida de preços.
Contudo, existe um bloqueio global de informação sobre o tema. Cada subida de preços aparece nos meios de comunicação como provocada por algum factor circunstancial (Katrina, declaração infeliz de Bush, alguma turbulência política no Médio Oriente, etc) mas a realidade não pode ser maquilhada de maneira indefinida. Além disso as fontes energéticas de substituição não estão livremente disponíveis no curto-médio prazo de modo a gerar uma reconversão rápida. Isto significa que os preços do petróleo continuarão a subir sem tecto à vista. O fenómeno já afecta de modo significativo os custos industriais dos países centrais e em algum momento provocará a contracção em conjunto dos lucros e do consumo.. O fantasma da "estagflação", que muitos acreditavam encerrado no baú das recordações nos anos 1970, regressaria rejuvenescido.
O quinto detonador é a bolha imobiliária global que, segundo The Economist, constitui a bolha especulativa mais importante da história, superior de longe à bolsa global de fins dos anos 1990. Nesse momento a subida do valor da acções no conjunto dos países desenvolvidos durante os cinco anos anteriores ao desinchaço representou uns 80% da soma dos seus PIB. Agora, de acordo com os cálculos dessa publicação, o incremento do valor das propriedades residenciais desses países equivale a mais de 100% dos referidos PIBs. Efectuando comparações parecidas pode-se observar que quando explodiu nos Estados Unidos a crise de 1929 a sobrevalorização do mercado bursátil representava 55% do PIB norte-americano(16). O disparador desta onda foi a política do dinheiro barato aplicada pelo governo Bush como saída para o estancamento de 2001, uma avalanche de créditos para a habitação com taxas de juros muito baixas expandiu o mercado de tal maneira que em 2004 o valor total das habitações residenciais nos Estados Unidos chegou aos 15 mil milhões de dólares, contra os 7 mil milhões de sete anos atrás. A quanto ascende a bolha nesse país? Segundo estimativas conservadoras haveria uns 3 mil milhões de dólares de sobre-preços que poderiam esfumar-se de um dia para o outro(17). Se estendermos este cálculo ao nível mundial oscilaríamos entre os 5 e os 6 mil milhões de dólares, cerca da metade do PIB norte-americano: imaginemos o que poderia chegar a ocorrer se abruptamente esse capital "desaparecesse".
Para entender o fenómeno devemos retroceder aos anos 1970, quando se iniciou um processo de financeirização global que nos anos 1990 recorreu a uma sucessão de explosões de bolhas: o Japão ao iniciar-se a década; a Ásia do Leste em 1997; a Rússia em 1998; os Estados Unidos em 2000. Cada desinchaço foi sucedido por um balão de maior magnitude que o anterior, mas a sucessão está agora a aproximar-se dum ponto que torna impossível o seu controle.
Ainda que a crise não tenha necessariamente de começar nos Estados Unidos, verifica-se que nos outros dois espaços de alto desenvolvimento foram-se acumulando tensões que poderiam desencadear turbulências de alcance mundial. Falar de um cenário de crise na Europa poderia parecer demasiado ousado mas não é assim. A Alemanha, seu motor económico, aproxima-se do crescimento zero (menos de 1% em 2005) marcado pelo ascenso das tensões sociais, do desemprego, do desencanto dos habitantes da ex-RDA (que recentemente protagonizaram uma importante onda de protestos) e pelo esgotamento dos benefícios da expansão (colonização) em direcção à Europa do Leste. Na França e na Inglaterra a situação não é muito melhor e a Itália concluiu 2005 com um crescimento da ordem dos 0%. As ilusões acerca da consolidação da União Europeia arrefeceram, como demonstraram as últimas eleições regionais. Impactos externos como a previsível desaceleração da economia norte-americana ou a continuação do processo de subida do preço do petróleo podem desencadear a recessão.
Não menos frágil é a situação na Ásia do Leste, em torno do Japão e da China. Ambos acumularam enormes reservas (mais de 1,5 mil milhões de dólares) e são extremamente sensíveis tanto às oscilações do mercado estadunidense como aos preços do petróleo. A China está presa ao seu "êxito" como economia exportadora e no seu interior crescem as desigualdades sociais e assim a legitimidade ideológica do seu sistema de poder entrou em declínio. Uma pausa no seu crescimento poderia desencadear antagonismos internos da magnitude do seu peso demográfico. O Japão pôde preservar sua estabilidade nos últimos quinze anos apesar do estancamento económico mas isso depende muito de variáveis globais ingovernáveis (custos energéticos, dinamismo das economias da sua região, evolução das importações dos Estados Unidos, etc).
Se observarmos a realidade dos países subdesenvolvidos (emergentes ou declinantes) encontraremos seguramente numerosos factores de crise (económicos, políticos, sociais) com enorme potencial de propagação regional e global. Pensemos na área dos países islâmicos, faixa que se estende desde o Oceano Atlântico no norte da África até o Pacífico, atravessando os estados árabes, os da Ásia Central, chegando à Indonésia. Esta faixa abriga uns 1500 milhões de habitantes, actualmente sacudidos pela estratégia militar expansionista dos Estados Unidos. Pensemos na América Latina (não só na sua região andina) e na Europa do Leste, como a Rússia que ainda pode dar algumas surpresas. Em síntese, a facilidade que um especialista em prospectiva encontra actualmente para localizar prováveis focos de turbulência talvez esteja a indicar que acima dessas localizações (parciais) situa-se uma dinâmica global de crise que estaria a chegar ao seu momento de bifurcação, de ruptura histórica.
Esse "momento" não é o resultado de uma conjunção de acidentes de conjuntura e sim a consequência de um longo processo, iniciado em fins dos anos 1990 com uma crise de sobreprodução que se exprimiu em turbulências monetárias, tensões consumistas e finalmente no choque petrolífero de 1973-74 e na "estagflação" que o seguiu. Ali ficou concluída a prosperidade gerada pelos remendos keynesianos do pós-guerra (antecipados nos Estados Unidos nos aos 30), que haviam conseguido reverter a decadência económica do período entre guerras. Mas o remédio não restabeleceu a saúde do capitalismo a longo prazo, como supunha o mito da regulação estatal, mas sim adiou suas mazelas, ampliando a base de futuras irrupções parasitárias. Na realidade, o neoliberalismo não deve ser considerado como a negação da experiência keynesiana e sim como a sua consequência lógica, sua etapa necessária seguinte. A articulação e o desenvolvimento dos pilares da hipertrofia financeira global (fundamento do edifício neoliberal) não teriam sido possíveis sem o instrumental e o voluntarismo intervencionista dos estados centrais. Dentre essas acções devemos incluir a expansão das dívidas públicas, os gastos militares, a manipulação política dos organismos financeiros internacionais (com o fim, por exemplo, de agravar o saqueio da periferia), a multiplicação de intervenções armadas (primeira e segunda guerra do Golfo, Kosovo, etc), o refinamento das intervenções dos bancos centrais dos países ricos... e também a ofensiva "desestatizante" (colonialista) na periferia, saqueando suas infraestruturas educativas, sanitárias e industriais. O neoliberalismo não foi outra coisa senão a instauração planetária da hegemonia financeira, ou seja "imperialista" (Bukarin definiu o imperialismo como a política do capital financeiro, convergência parasitária no mais alto nível do poder burguês no centro do capitalismo mundial). O fenómeno começou há mais de um século, atravessou diversas etapas e transformações para chegar à actual situação. Agora o filho neoliberal costuma ridicularizar de vez em quando o seu pai keynesiano (que por sua vez ridicularizava o avô liberal do século XIX) mas vive, reproduz-se, graças ao património recebido, sobretudo suas estruturas estatais de intervenção.
O dado mais importante que marca este começo de século é o declínio dos Estados Unidos, acompanhado por dois fenómenos que o distinguem de maneira radical de outras decadências imperiais da história moderna.
Em primeiro lugar, a globalização (comercial, financeira, produtiva...) expressa como interdependência extrema entre as grandes potências económicas e mais directamente de todas elas em relação ao mercado norte-americano, cuja queda arrastará certamente os demais. Outra interpretação possível é que aquilo que aparece como "crise norte-americana" (com impactos globais) é na realidade uma crise global com múltiplos focos. Isto significa que o mais razoável é esperar que o fim da unipolaridade em torno dos Estados Unidos não seja o princípio de outra unipolaridade de substituição (asiática ou europeia) e sim, antes, um complexo processo de despolarização incluindo multipolaridades frouxas, lideranças regionais efémeras, etc. Uma antecipação disto é o surgimento de acordos e integrações regionais que tendem a criar dinâmicas e estratégias cada vez mais autónomas em relação aos Estados Unidos. É o caso da convergência triangular entre o Irão, a Rússia e a China, com capacidade para atrair um amplo espectro de países euro-asiáticos. A leitura destes processos encontra-se dificultada pelo peso cultural do passado. Além disso, as burguesias que tomam distâncias do Império norte-americano encontram nesta "independência" uma fonte de legitimidade que as ajuda a controlar melhor suas populações, sempre agredidas por políticas económicas que acentuam a concentração de rendimentos. Como exemplo na América Latina podemos observar os governos de Lula no Brasil ou de Kirchner na Argentina, que aplicam duríssimos ajustes neoliberais, alardear certas atitudes supostamente "anti-imperialistas" (em relação à diplomacia estadunidense). O novo "progressismo" latino-americano e certas emergências autonomizantes euroasiáticas exprimem tentativas de reprodução da exploração capitalista para além da velha tutela norte-americana, ou procurando suavizá-la ou delimitá-la graças a diversificações pragmáticas e cambiantes de alianças e submissões. Enquanto isso a superpotência tenta sobreviver como tal na medida das suas possibilidades, defende metro a metro seus privilégios, tenta ofensivas salvadoras (como a invasão do Iraque) e acentua suas características mais cruéis.
O outro dado associado ao declínio dos Estados Unidos é que o mesmo coincide com a etapa do declínio do ciclo estatizante do capitalismo — iniciado há mais de um século — que ganhou um impulso forte com a Primeira Guerra Mundial, engendrou os diversos fascismos, assumiu-se como keynesiano, até iniciar sua fase declinante sob a bandeira neoliberal. Na sua última etapa ascendente (entre 1945 e 1973) levou o "estado burguês" ao seu mais alto nível de desenvolvimento e de hegemonia cultural, possibilitando a integração "democrática" das classes inferiores nos países ricos e colocando-se na vanguarda dos processos nacionalistas periféricos (nestes últimos a libertação do controle imperialista equivalia à instauração do controle estatal-nacional, anti-imperialismo e estatismo foram quase sinónimos nessa época). Mais ainda, as tentativas de ruptura anti-capitalista ao longo do século XX, começando pela Revolução Russa, ficaram ideologicamente prisioneiras do estatismo que a partir do Ocidente dava lições de eficácia administrativa e racionalidade social (nessa submissão cultural encontraremos um dos factores decisivos do fracasso do "socialismo" soviético e das suas diversas variantes). A racionalidade estatal com máscara socialista levada ao seu extremo final, à organização total da sociedade, converteu-se no seu contrário: irracionalidade produtiva, esterilização do espírito inovador, abuso generalizado, arbitrariedade do poder.
O horizonte de despolarização turbulenta tende a estender-se, afogando o conjunto de mitos da civilização burguesa. O processo mal começou.
Ao contrário da onda de crises que decorreram da Primeira Guerra Mundial, agora não surgem alternativas confiáveis engendradas no centro do mundo (conservadoras, reformistas ou revolucionárias). Nesse período a racionalidade estatal (impregnada da lógica militar) oferecia opções viáveis tanto aos que queriam salvar o capitalismo como aos que aspiravam enterrá-lo. Agora pelo contrário despontam outras racionalidades (e rebeldias), alimentadas pelo próprio processo de modernização global, de urbanização da periferia, de expansão explosiva das (inter)comunicações. Renascimento do pluralismo, de formas colectivistas, solidárias a partir de baixo, cuja complexidade ultrapassa estruturas e preconceitos autoritários que geram nos altos comandos dramáticas crises de percepção.
Crises, decadências, nascimentos, renascimentos... vão atapetando um século surpreendente.
Notas de rodapé:
(1) Stephen Roach, "Globalisation's First Oil Shock", Morgan Stanley, Aug 26 2005. (retornar ao texto)
(2) Stephen Roach, "Global: The Shoestring Economy", Morgan Stanley, Sept 09 2005. (retornar ao texto)
(3) "The global housing boom. In come the waves", The Economist, Jun 16th 2005. (retornar ao texto)
(4) FMI , Worl Economic Outlook, september 2005. (retornar ao texto)
(5) Jack Crooks, "Dollar drops: Good news and bad", Asia Times Online, Nov 25 2004. (retornar ao texto)
(6) U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division. (retornar ao texto)
(7) A Balança de transacções correntes norte-americana integra a balança comercial, a balança de investimentos estadunidenses no exterior e de investimentos estrangeiros nos Estados Unidos e as transferências unilaterais. (retornar ao texto)
(8) Piketty T., Saez E., "Income Inequality in the United States, 1913-1998", The Quartely Journal of Economics, Vol. CXVIII, num 1, 2003. (retornar ao texto)
(9) Isto se deve ao facto de que a rentabilidade média nos Estados Unidos continua a ser mais baixa do que a média mundial. (retornar ao texto)
(10) Jorge Beinstein, "¿Hacia la crisis energética global?", Mercado, septiembre 2005. (retornar ao texto)
(11) Jack Crooks, art.cit. (retornar ao texto)
(12) Joseph W. Stroupe, "Crisis towers over de dollar", Asia Times Online, Nov. 25 2004. (retornar ao texto)
(13) ibid. (retornar ao texto)
(14) Andre Gunder Frank On the internet ( http://www.rrojasdatabank.org/agfrank/agf_internet.htm ). (retornar ao texto)
(15) Paul Kennedy, "Auge y caída de las grandes potencias", Plaza James, Barcelona, 1989. (retornar ao texto)
(16) The Economist, art. cit. (retornar ao texto)
(17) William Engdahl, "Is a USA Economic collapse due in 2005?", Studien von seitfragen, July 26. 2004 ( http://druckversion.studien-von-zeitfragen.net/ ) (retornar ao texto)